Bola de Capotão
Parte III
Eu queria ser bom, mas era um grosso. Como perseverar e sobreviver num ambiente tão hostil? Pois eu consegui! Até alguns poucos momentos de glória eu vivi. Como foi isso?
Há cerca de 40 anos, nas pequenas cidades do interior paulista, como na minha, havia três figuras poderosas em torno das quais a comunidade se organizava social, religiosa e economicamente: o padre, o prefeito e o médico. Eu era filho de uma delas. Do padre é que não, pois, oficialmente, não os tinha. Menos ainda do prefeito, opositor ferrenho de meu pai. Mas do médico, este sim, o mais rico e poderoso entre os poderosos. Era conhecido em toda região como o “tubarão” e eu, por decorrência natural, o “filho do tubarão”. Se isso era bom ou não para ele, na ingenuidade de criança, eu nem sabia, mas para mim era uma beleza. Tinha o maior orgulho em ser conhecido assim, era de respeito – talvez até de zombaria, mas nunca percebi -, estufava o peito e tirava vantagem. Nada de folgar muito para cima de mim, pois o temiam. As razões? Nunca soube bem e não importava. Em meu universo infantil a lenda era infinitamente mais importante que o fato, portanto, bolas para a realidade, bolas para os adultos e seus problemas e, bolas para mim, mas as de capotão. Lá no futebol, em meio aos craques, aos bons de bola, eu era o dono da bola. A bola de capotão era minha, meu passaporte seguro entre eles, meu valioso objeto de barganha, minha garantia de espaço no campo de jogo, meu definitivo antídoto para o famigerado banco. Reluzentes, feitas do mais puro couro, costuradas à mão em gomos de encaixe perfeito, redondas como lua cheia, macias feito miolo de pão e cheirosas como congote de menina. Sempre novas e besuntadas com o mais puro sebo de boi que eu mesmo encomendava direto do matadouro; bem cheias porque eu também tinha bomba e bigulim. E que som elas faziam! Pura melodia ao tocarem o solo, percutidas pelas mãos orgulhosas de seu dono. Era uma perder o viço e já havia outra, bastavam algumas boas notas no boletim, o que era uma sopa.
E eram minhas, só minhas e de mais ninguém, pois não as tinham, minhas adoráveis e inseparáveis bolas de capotão. E só tem jogo se eu jogar; eu e meus amigos da reserva, Piuí e Zé Ito. E quero bola no pé e camisa dez nas costas. Quero assistência, que construir não sei, e bola baixa, que no cabeceio sou ruim e, nada de bronca se chutar para fora. Quero ver quem pode, sou o “filho do tubarão”.
Virei o jogo e me esbaldei, tornei-me cativo. Não titular, reconhecia meus limites, mas nunca mais fiquei fora dos treinos, nunca mais os assisti lá do banco, nunca mais fui gandula, nunca mais fui invisível; eu, o dono da bola, Piuí e Zé Ito, meus protegidos.
Vali-me do recurso possível, não por qualquer capricho ou impertinência, mas porque gostava de jogar bola, queria acertar, queria muito melhorar, queria alguma admiração e respeito e, acima de tudo, queria divertir-me com os amigos nos finais de tarde ensolarados de minha pequena cidade. Tanto que, por inúmeras vezes, impedido de jogar por algum outro motivo familiar, nunca hesitei em emprestar meu capotão, disponibilizando meu precioso trunfo para diversão da turma.
Queria espaço e respeito. Nunca mais fui o último escolhido no par-ou-ímpar para a formação dos times. Agora eu punha os dedos, eu e Piuí ou Zé Ito. Nós escolhíamos, começando, evidentemente, pelos mais fortes: eu quero o Pelé, eu o Landinho; Calango para mim, eu o Cheque, e assim por diante. Não mudamos a filosofia essencial, apenas, ingenuamente, empurramos o problema para outros; mas não seria esta a ética das crianças?
E jogávamos todos os dias até o sol se pôr e ele o fazia bem aos nossos olhos, em espetáculos vermelhos e inesquecíveis. Nossas sombras esticando-se compridas e engraçadas, cruzando-se sem cessar até tornarem-se indistintas no escuro do poente. Hora de parar, voltar para casa, banho bom, jantar quente e esperar pelo novo dia, pelo novo encontro, pela nova pelada. Capotão sob o braço, orgulho estampado, fantasia de craque: Gilmar, Djalma Santos, Beline, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo, o Brasil de 1958 estaria entrando em campo no domingo, em Solna na Suécia, para decidir a sexta Copa do Mundo de Futebol...Eu era um deles.
Continua ainda esta semana!
















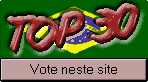
0 comentários:
Postar um comentário